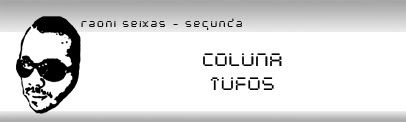
Aos preguiçosos, pular para o item 02
ESCREVENDO A NANQUIM
Artigo para publicação no jornal “Unirio Plural”, número 02
Raoni Seixas é estudante do oitavo período de Interpretação da Escola de Teatro da UNIRIO.
O espetáculo “Macário, às vezes a vida volta…” estará em cartaz todos os sábados e domingos do mês de junho no Espaço Café Cultural: Rua São Clemente, . Estudantes da UNIRIO com carteirinha pagam meia-entrada.
1. Uma introdução ao modo de produção cênica e à grade curricular da Escola de Teatro da UNIRIO.
Há uma crise no ensino universitário de teatro: a instituição pública de ensino superior não pode oferecer estrutura para o desenvolvimento de diferentes práticas de encenação dentro da faculdade. A escassez do espaço físico, a precária comunicação docente e a má distribuição de recursos colaboram para restringir ainda mais as produções.
Na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio, a partir do terceiro período, pode-se fazer prova para o curso de direção teatral, que se apresenta como única possibilidade para o estudante que quer orientar a montagem de uma encenação – embora ele mesmo seja orientado por um professor que lhe dirá os objetivos a serem atingidos. O poder de decisão do conteúdo a ser abordado fica a cargo de um professor e de seu aluno-diretor, que deverá escrever o projeto da montagem com estudantes do curso de teoria. Os estudantes que cursam interpretação entrarão no projeto em um momento posterior, como cordas a serem afinadas por um violinista. Para esses aspirantes a atores, há ainda outra opção: fadados a atuar em três montagens na Escola, podem tentar participar de um projeto ligado diretamente a um professor.
Apesar do esforço de alunos do Diretório Acadêmico Oduvaldo Vianna Filho para participarem do processo da reforma curricular dos cursos, organizando seminários e grupos de discussão, no ano passado, pouco se avançou nesse tema: o modelo utilizado no curso de Artes Cênicas é similar ao do estudo da Engenharia ou da Medicina, em que toda a “liberdade” está nas mãos do professor - ele mesmo submetido a um sistema - e pouca ou nenhuma ao alcance do estudante, tutelado do início ao fim. No entanto, cada vez mais, observa-se a formação de grupos de estudantes autônomos que não verticalizam sua produção e não se vinculam à grade curricular, pois essa não prevê este tipo de iniciativa. No ano passado, foram registrados mais de dez grupos. A cooperação do Diretor da Escola provém mais do entendimento da importância desses trabalhos do que da própria organização do currículo do estudante de Artes Cênicas. Se algum artista ligado ao ensino universitário protagoniza papel de destaque no modo de pensar e de fazer arte, o mérito é mais do próprio artista do que da instituição: não é evidente que o ganho à instituição de ensino superior ocorra em virtude da universidade.
Nesse último século, a arte veio questionando seu sentido. A própria hierarquização e verticalização do ensino e da produção não fazem mais sentido. O sujeito da ação pode ser o próprio autor e, consequentemente, a própria obra de arte. O termo ator torna-se, assim, insuficiente para agregar mais este conceito.
Para que um professor torne-se mestre, necessita fazer dissertação; para ser doutor, precisa escrever tese, sem que estes resultados necessariamente sejam transformados em ação: há uma predominância da escrita acadêmica em detrimento do fazer cênico.
O problema que aqui se apresenta em forma micro é uma consequência de uma estrutura maior e mais complexa. Há também outros problemas: o desejo de aceitação, o do não rompimento e o do não questionamento das condições pré-estabelecidas por parte daqueles que já se encontram tão intimamente ligados a elas a ponto de confundir-se com as mesmas.
2. A Companhianômala de Teatro e o espatáculo “Macário, às vezes a vida volta…”
A Companhianômala de Teatro surge na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2004 como uma anomalia: o grupo formado por iniciativa da Anna Beatriz, estudante do curso de teoria que se vinculou à pesquisa do professor Walder, docente deste departamento, por diversos motivos, foge à regra da instituição pública e da grade curricular. Embora ligada à pesquisa de um docente, o objetivo é que todos os integrantes exerçam também o papel de autores.
A pesquisa por dados da estética simbolista nos textos dramatúrgicos do nosso país do século XIX – e que fundamentaram a historiografia teatral brasileira – levou ao mergulho na obra de Álvares de Azevedo. Segundo a crítica especializada, o texto Macário promoveu “representações poéticas cuja intensidade produziu um drama imperfeito ou anômalo para o teatro, mas
ideal como poesia romântica”. ¹
Diz o crítico Antônio Cândido que "a superação do atraso intelectual criado pelo hábito de copiar redutoramente os clássicos seria alcançada somente quando fôssemos capazes de gerar obras de primeira ordem a partir de exemplos nacionais anteriores".² Por isso, a escolha da companhia em trabalhar textos que a crítica considera como dramaturgia brasileira clássica, já que não podem ser considerados cópias dos modelos europeus, pois falham justamente nesse sentido, criando um princîpio de uma temática nacional no âmbito literário e político.
Encenamos um “drama clássico”, a partir da estética contemporânea, em que a compreensão das imagens poéticas da obra e a visão crítica de mundo do ator-performer são necessidades. Ele não realiza uma simples ação, mas acima de tudo a ação performática é um acontecimento, uma façanha. Utilizando-se de sua estética, o performer age em seu próprio nome e como tal dirige a seu público suas idéias e reflexões. O estudo não limita-se ao texto, mas sobre ele fazer uma reflexão crítica e estética da cena e de seu próprio trabalho de performer. A antropologia do trabalho surge como consciência histórica e ponto de partida para criar a encenação do grupo e não como cópia dos cânones europeus ou imitação do teatro brasileiro contemporâneo.
A pretensão da companhia é que não haja uma direção e sim uma orientação: o trabalho do grupo é criar uma unidade de pesquisa estética em que todos devem se colocar em cena. Não existe apenas o personagem, mas o performer dono do seu trabalho, que utiliza o jogo teatral para debater com a platéia. Nesse caso, o conceito ilusionista de imitação do real, que utiliza a cópia para contar uma história, não interessa. O jogo com o acaso, o aqui e agora, em que a cena se faz no instante em que acontece, é um aspecto fundamental à encenação. O ator não se identifica com o personagem a fim de imitá-lo, mas se utiliza dele para questionar o próprio conceito ilusionista. A construção de imagens cênicas simbolistas permite não apenas a compreensão lógica dos acontecimentos, mas busca capturar o espectador no que este guarda de mais profundo. Segundo Freud, “as imagens constituem (...) um meio muito imperfeito de tornar o pensamento consciente, e pode-se dizer que o pensamento visual se aproxima mais dos processos inconscientes que o pensamento verbal e é mais antigo que este, tanto do ponto de vista filogênico quanto ontogênico”³. O resgate do ritual da encenação teatral é ponto fundamental de pesquisa, porém a diferença entre os oficiantes – atores/performers – e o público é tênue: a platéia é convidada a se colocar em cena estabelecendo uma reflexão critica e intelectual na leitura e “deciframento dos signos, a uma reconstituição da fábula e uma comparação de uma realidade representada e de seu próprio universo” 4.
A partir do trabalho da concepção e da percepção da formação da literatura e do teatro brasileiro como entendimento da política, da cultura e da sociedade deste país, o performer estabelece um senso crítico de sua função social e da abordagem artística que quer dar ao seu trabalho. Tendo acumulado esse estudo e diante da dificuldade de ser um artista, marginalizado dentro da própria estrutura de uma Escola de Teatro, não pode se tornar isento da encenação: a obra de arte, dentre outros fatores, NECESSITA refletir sua existência.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS
¹. GAGLIANONE, Anna Beatriz. Macário, às vezes a vida volta… Projeto de encenação do espetáculo.
². CÂNDIDO, Antônio. Literatura e Subdesenvolvimento. In: A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática
³ , 4. PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. Ed. Perspectiva
BIBLIOGRAFIA
- SANTIAGO, Silviano. O entre lugar do discurso latino-americano. in Uma Literatura nos Trópicos. São Paulo, Perspectiva, 1978.
- GLUNSBERG, Jorge. A arte da performance. Ed. Perspectiva.
- COHEN, Renato. A performance como linguagem. Ed. Perspectiva
- FREITAS, Almir e LAUB, Michel. Reportagem A universidade brasileira em xeque, revista BRAVO!, sem referência da data de publicação.
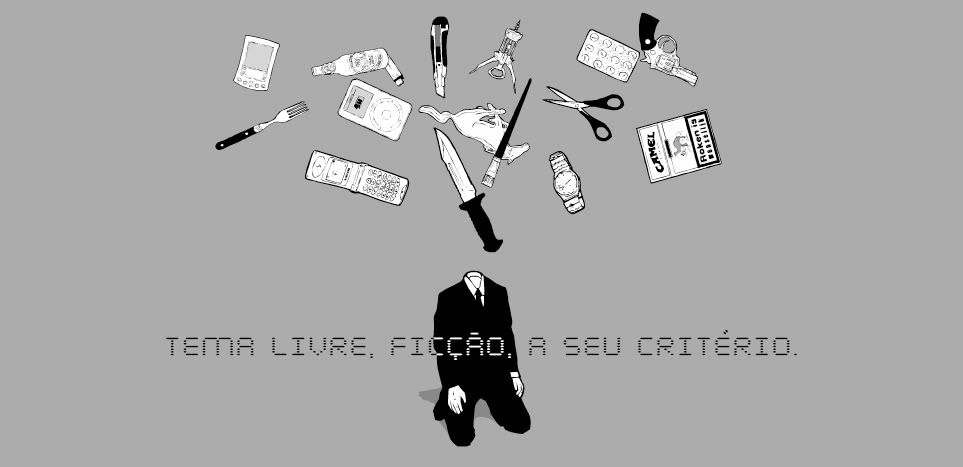
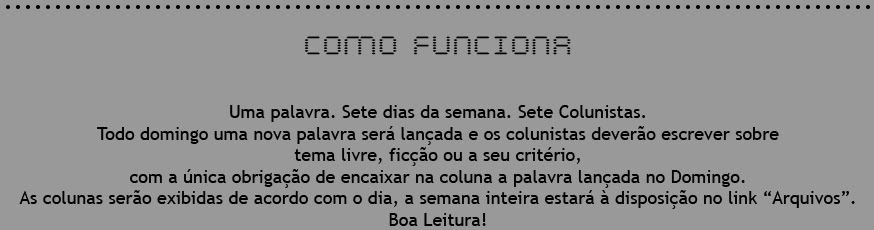
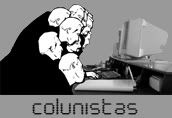








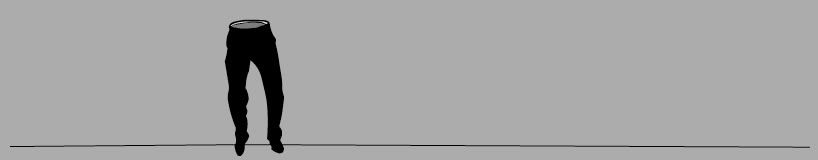
0 Comentários:
Postar um comentário
<< Home